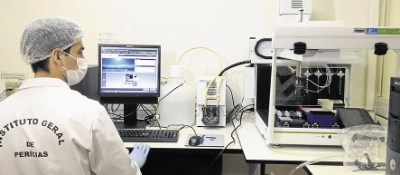Como professor de Criminologia, tive problemas durante algum tempo, devido ao fato de que, seguindo a maioria daqueles que escrevem livros sobre assuntos policiais, eu nunca havia sido policial. Contudo, alguns elementos da comunidade acadêmica norte-americana, tal como eu, agiram muitas vezes precipitadamente ao apontar erros da nossa polícia. Dos incidentes que lemos nos jornais, formamos imagens estereotipadas, como as do policial violento, racista, venal ou incorreto. O que não vemos são os milhares de dedicados agentes da polícia, homens e mulheres, lutando e resolvendo problemas difíceis para preservar nossa sociedade e tudo que nos é caro. Muitos dos meus alunos tinham sido policiais, e eles várias vezes opunham às minhas críticas o argumento de que uma pessoa só poderia compreender o que um agente da polícia tem de suportar quando se sentisse na pele de um policial. Por fim, me decidi a aceitar o desafio. Entraria para a polícia e, assim, iria testar a exatidão daquilo que vinha ensinando.
Um dos meus alunos (um jovem agente que gozava licença para freqüentar o curso, pertencente à Delegacia de Polícia de Jacksonville, Flórida) me incitou a entrar em contato com o Xerife Dale Carson e o Vice-Xerife D. K. Brown e explicar-lhes minha pretensão. Lutando por um distintivo Jacksonville parecia-me o lugar ideal. Um porto marítimo e um centro industrial em crescimento acelerado. Ali ocorriam, também, manifestações dos maiores problemas sociais que afligem nossos tempos: crime, delinqüência, conflitos raciais, miséria e doenças mentais. Tinha, igualmente, a habitual favela e o bairro reservado aos negros. Sua força policial, composta por 800 elementos, era tida como uma das mais evoluídas dos Estados Unidos. Esclareci ao Xerife Carson e ao Vice-Xerife Brown de que pretendia um lugar não como observador, mas como patrulheiro uniformizado, trabalhando em expediente integral durante um período de quatro a seis meses. Eles concordaram, mas impuseram também a condição de que eu deveria, primeiro, preencher os mesmos requisitos que qualquer outro candidato a policial, uma investigação completa do caráter, exame físico, e os mesmos programas de treinamento. Haveria outra condição com a qual concordei prontamente em nome da moral. Todos os outros agentes deviam saber quem eu era e o que estava fazendo ali. Fora disso, em nada eu me distinguiria de qualquer agente, desde o meu revólver Smith and Wesson .38 até o distintivo e o uniforme.

O maior obstáculo foram as 280 horas de treinamento estabelecidas por lei. Durante quatro meses (quatro horas por noite e cinco noites por semana), depois das tarefas de ensino teórico, eu aprendia como utilizar uma arma, como aproximar-me de um edifício na escuridão, como interrogar suspeitos, investigar acidentes de trânsito e recolher impressões digitais. Por vezes, à noite, quando regressava a casa depois de horas de treinamento de luta para defesa pessoal, com os músculos cansados, pensava que estava precisando era de um exame de sanidade mental por ter-me metido naquilo. Finalmente, veio a graduação e, com ela, o que viria a ser a mais compensadora experiência da minha vida. Patrulhando a rua Ao escrever este artigo, já completei mais de 100 rondas como agente iniciado, e tantas coisas aconteceram no espaço de seis meses que jamais voltarei a ser a mesma pessoa. Nunca mais esquecerei também o primeiro dia em que montei guarda defronte à porta da Delegacia de Jacksonville. Sentia-me, ao mesmo tempo, estúpido e orgulhoso no meu novo uniforme azul e com a cartucheira de couro.
A primeira experiência daquilo que eu chamo de minhas “lições de rua” aconteceu logo de imediato. Com meu colega de patrulha, fui destacado para um bar, onde havia distúrbios, no centro da zona comercial da cidade. Encontramos um bêbado robusto e turbulento que, aos gritos, se recusava a sair. Tendo adquirido certa experiência em admoestação correcional, apressei-me a tomar conta do caso. “Desculpe, amigo”, disse eu sorridente, “não quer dar uma chegadinha aqui fora para bater um papo comigo?” O homem me encarou incrédulo, com os olhos vermelhos. Cambaleou e me deu um empurrão no ombro. Antes que eu tivesse tempo de me recuperar, chocou-se de novo comigo e, desta vez, fazendo saltar da dragona a corrente que prendia meu apito. Após breve escaramuça, conseguimos levá-lo para a radiopatrulha. Como professor universitário, eu estava habituado a ser tratado com respeito e deferência e, de certo modo, presumia que isso iria continuar assim em minhas novas funções. Estava porém, aprendendo que meu distintivo e uniforme, longe de me protegerem do desrespeito, muitas vezes atuavam como um imã atraindo indivíduos que odiavam o que eu representava. Confuso, olhei para meu colega, que apenas sorriu. Teoria e prática Nos dias e semanas seguintes, eu iria aprender mais coisas.

Como professor, sempre procurava transmitir aos meus alunos a idéia de que era errado exagerar o exercício da autoridade, tomar decisões por outras pessoas ou nos basearmos em ordens e mandatos para executar qualquer tarefa. Como agente de polícia, porém, fui muitas vezes forçado a fazer exatamente isso. Encontrei indivíduos que confundiam gentileza com fraqueza – o que se tornava um convite à violência. Também encontrei homens, mulheres e crianças que, com medo ou em situações de desespero, procuravam auxílio e conselhos no homem uniformizado. Cheguei à conclusão de que existe um abismo entre a forma como eu, sentado calmamente no meu gabinete com ar condicionado, conversava com o ladrão ou assaltante à mão armada, e a maneira pela qual os patrulheiros lidam com esses homens – quando eles se mostram violentos, histéricos ou desesperados.
Esses agressores, que anteriormente me pareciam tão inocentes, inofensivos e arrependidos depois do crime cometido, como agente de polícia, eu os encarava pela primeira vez como uma ameaça à minha segurança pessoal e a da nossa própria sociedade. Aprendendo com o medo tal como o crime, o medo deixou de ser um conceito abstrato para mim, e se tornou algo bem real, que por várias vezes senti: era a estranha impressão em meu estômago, que experimentava ao me aproximar de uma loja onde o sinal de alarme fora acionado; era uma sensação de boca seca quando, com as lâmpadas azuis acesas e a sirena do carro ligada, corríamos para atender a uma perigos chamada onde poderia haver tiroteio. Recordo especialmente uma dramática lição no capítulo do medo.
Num sábado à noite, patrulhava com meu colega uma zona de bares mal freqüentados e casas de bilhares, quando vimos um jovem estacionar o carro em fila dupla. Dirigimo-nos para o local, e eu pedi que arrumasse devidamente o automóvel, ou então que fosse embora, ao que ele respondeu inopinadamente com insultos. Ao sairmos da radiopatrulha e nos aproximarmos do homem, a multidão exaltada começou a nos rodear. Ele continuava a nos insultar, recusando-se a retirar o carro. Então, tivemos que prendê-lo. Quando o trouxemos para a viatura da polícia, a turba nos cercou completamente. Na confusão que se seguiu, uma mulher histérica abriu meu coldre e tentou sacar meu revólver. De súbito, eu estava lutando para salvar minha vida. Recordo a sensação de verdadeiro terror que senti ao premir o botão do armeiro na radiopatrulha onde se encontravam nossas armas longas.
Até então, eu sempre tinha defendido a opinião de que não devia ser permitido aos policiais o uso de armas longas, pelo aspecto “agressivo” que denotavam, mas as circunstâncias daquele momento fizeram mudar meu ponto de vista, porque agora era minha vida que estava em risco. Senti certo amargor quando, logo na noite seguinte, voltei a ver, já em liberdade, o indivíduo que tinha provocado aquele quase motim – e mais amargurado fiquei quando ele foi julgado e, confessando-se culpado, condenaram-no a uma pena leve por “violação da ordem”.
Vítimas silenciosas Dentre todas as trágicas vítimas que vi durante seis meses, uma se destaca. No centro da cidade, num edifício de apartamentos, vivia um homem idoso que tinha um cão. Era motorista de ônibus aposentado. Encontrava-os quase sempre na mesma esquina, quando me dirigia para o serviço, e por vezes me acompanhavam durante alguns quarteirões. Certa noite, fomos chamados por causa de um tiroteio numa rua perto do edifício.
Quando chegamos, o velho estava estendido de costas no meio de uma grande poça de sangue. Fora atingido no peito por uma bala e, em agonia, me sussurrou que três adolescentes o tinham interceptado e lhe exigiram dinheiro. Quando viram que tinha tão pouco, dispararam e o abandonaram na rua. Em breve, comecei a sentir os efeitos daquela tensão diária a que estava sujeito. Fiquei doente e cansado de ser ofendido e atacado por criminosos que depois seriam quase sempre julgados por juizes benevolentes e por jurados dispostos a conceder aos delinqüentes “nova oportunidade de se reintegrarem ao convívio da sociedade”.
Como professor de Criminologia, eu dispunha do tempo que queria para tomar decisões difíceis. Como policial, no entanto, era forçado a fazer escolhas críticas em questão de segundos (prender ou não prender, perseguir ou não perseguir), sempre com a incômoda certeza de que outros, aqueles que tinham tempo para analisar e pensar, estariam prontos para julgar e condenar aquilo que eu fizera ou aquilo que não havia feito.
Como policial, muitas vezes fui forçado a resolver problemas humanos incomparavelmente mais difíceis do que aqueles que enfrentara para solucionar assuntos correcionais ou de sanidade mental: rixas familiares, neuroses, reações coletivas perigosas de grandes multidões, criminosos. Até então, estivera afastado de toda espécie de miséria humana que faz parte do dia-a-dia da vida de um policial Bondade em uniforme freqüentemente , fiquei espantado com os sentimentos de humanidade e compaixão que pareciam caracterizar muitos dos meus colegas agentes da polícia.
Conceitos que eu considerava estereotipados eram, muitas vezes, desmentidos por atos de bondade: um jovem policial fazendo respiração boca-a-boca num imundo mendigo, um veterano grisalho levando sacos de doces para as crianças dos guetos, um agente oferecendo a uma família abandonada dinheiro que provavelmente não voltaria a reaver.
Em conseqüência de tudo isso, cheguei a humilhante conclusão de que tinha uma capacidade bastante limitada para suportar toda a tensão a que estava sujeito. Recordo em particular certa noite em que o longo e difícil turno terminara com uma perseguição a um carro roubado. Quando largamos o serviço, eu me sentia cansado e nervoso. Com meu colega, estava me dirigindo para um restaurante a fim de comer qualquer coisa, quando ouvimos o som de vidros que se partiam, proveniente de uma igreja próxima, e vimos dois adolescentes cabeludos fugindo do local. Nós os alcançamos e pedi a um deles que se identificasse. Ele me olhou com desprezo, xingou-me e virou as costas com intenção de se afastar. Não me lembro do que senti. Só sei que o agarrei pela camisa, colei seu nariz bem no meu e rosnei: “Estou falando com você, seu cretino!” Então meu colega me tocou no ombro, e ouvi sua confortante voz me chamando à razão: “Calma, companheiro!” Larguei o adolescente e fiquei em silêncio durante alguns segundos. Depois me recordei de uma das minhas lições, na qual dissera aos alunos: “O sujeito que não é capaz de manter completo domínio sobre suas emoções, em todas as circunstâncias, não serve para policial”. Desafio complicado.
Muitas vezes perguntara a mim próprio: “Por que uma pessoa quer ser policial?”. Ninguém está interessado em dar conselhos a uma família com problemas às três da madrugada de um domingo, ou em entrar às escuras num edifício que foi assaltado, ou em presenciar, dia após dia, a pobreza, os desequilíbrios mentais, as tragédias humanas.
O que faz um policial suportar o desrespeito, as restrições legais, as longas horas de serviço com baixo salário, o risco de ser assassinado ou mutilado? A única resposta que posso dar é baseada apenas na minha curta experiência como policial. Todas as noites eu voltava para casa com um sentimento de satisfação e de ter contribuído com algo para a sociedade – coisa que nenhuma outra tarefa me havia dado até então. Todo agente de polícia deve compreender que sua aptidão para fazer cumprir a lei, com a autoridade que ele representa, é a única “ponte” entre a civilização e o submundo dos fora-da-lei. De certo modo, essa convicção faz com que todo o resto (o desrespeito, o perigo, os aborrecimentos) mereça que se façam quaisquer sacrifícios.
Autor: George L. Kirkham, professor assistente da Escola de Criminologia da Universidade da Flórida
Revista da Polícia Militar do Rio de Janeiro – n° 5/Ano III – Agosto de 1988
Colaboração Major PMMT: Clarindo Alves de Castro.
In 1973, George Kirkham was 31 and a professor of criminology at FSU when he spent the summer working as a police officer in Jacksonville.By Matt Soergel
Midway through a night shift in the summer of 1973, Phil Kearney gets called back to police headquarters at 711 Liberty St. Go to the captain's office, they tell him. Then the captain points to a slight man standing next to him and says, "This is your new partner."
Kearney is not impressed. He's an old-school cop, 6 feet 3 and 225 pounds, with bright red hair. The guy in front of him has a dark mustache, and he's short, skinny, a Barney Fife character in an ill-fitting blue uniform. It looks like dress-up day.
Kearney knows every man in the department by name, but he doesn't know this guy. "He's not one of us," he thinks. "This [filtered word] is a plant, an FBI guy. I can spot 'em a mile away."
The cop is suspicious, but he follows orders and turns his Plymouth Satellite squad car into the sticky night, heading with his new partner into Jacksonville's worst neighborhoods. Their second, maybe third shift together, they run into an unruly, drunk miscreant who needs to be controlled, and controlled forcefully.
"Let me handle this," says the skinny guy in the cop's uniform. He starts using $5 words with the street guy, trying to reason with him. But the street guy isn't buying it. "Who the hell are you?" he says, taking a swing at him.
Kearney and his new partner have to wrestle him to the ground. They snap some cuffs on him and shove him in the back seat of the Satellite. The door's not closed yet, though, and the new guy doesn't have the sense to get away from the suspect. He leans in, says something like, "Look, you brought this on yourself, there's no reason to be so upset. Listen to me, we're going down to the station ... "
He's studied clinical psychology, after all. He's done some lay counseling. But the drunk isn't impressed. He rears his foot back and kicks him right between the legs.
The new guy collapses to the ground.
Thirty-six years later, Kearn- ey laughs at the memory. "That was his baptism in police work," he says. Things were better between the big cop and his partner after that.
And it turns out the story the new guy had been telling was true. He wasn't an FBI plant. He was a Florida State University professor, and he was on an improbable quest: He actually volunteered to work a summer as a cop, with a badge and a department-issued .38, on some of Jacksonville's toughest beats. For no pay.
His name was George Kirkham, Ph.D.
Doc, the other cops called him.
Over the summer, Doc didn't become a great cop, but he got better, more street-wise. The other cops got so they thought he was OK, and they'd go to his downtown apartment after the shift for "choir practice," which involved boozing and war stories. Any singing was purely incidental.
Sure, Doc had his quirks: He dictated notes into a tape recorder while on his shift, and then transcribed them during choir practice. He still used $5 words. But he was one of them now.
He'd come into his summer with a doctorate in criminology, but he had no idea what life was like for the people who fought criminals. In Jacksonville, he learned quickly.
And something unexpected happened to Doc that summer, says Chuck Ritchey, another one of his partners in 1973: "I think he fell in love with police work."
'See what our world is like'
George Kirkham had it easy growing up. His was from a middle-class, politically aware family in California. He worked on his doctorate at the University of California at Berkeley in the late 1960s. He didn't do any protesting then, but he understood where the counterculture kids were coming from, and he had the wire-rimmed glasses and the kind-of long hair.
He was crazy about learning, moving from sociology to corrections to criminology. But to him, police stood for the Vietnam War and President Nixon. Sometimes he passed ranks of riot police on his way to class. He advocated an unarmed police force; surely that would make them more responsive to the people they served.
He got his Ph.D. in criminology, then landed a teaching job at FSU in 1971. The South was a culture shock, though in Tallahassee he found a cozy academic cocoon. But then some of his older students, who'd worked as cops, began challenging him, getting through that cocoon.
One day, over a beer, one of them told him: "You know professor, one day one of you needs to get out and see what our world is like."
Kirkham thought on it. Anthropologists, after all, go live with people in different parts of the world, take on their folkways, their way of dress. Why not he? Why shouldn't a criminologist go live with the cops?
His dean was more than OK with the idea, so Kirkham took his plan to Jacksonville Sheriff Dale Carson. Some of his men grumbled, but Carson was enthusiastic - he'd been itching to show the academics, the theorists, what a cop's lot in life is. And here was one, eager to find out.
So at night, Kirkham went to a police academy in Tallahassee, getting in 280 hours of training. And in the summer of '73, he drove his beat-up Datsun pickup to his new apartment on Ashley Street in Jacksonville, leaving his newly pregnant wife in Tallahassee. He didn't have any grant money for this project of his, but it was something he had to do.
He was 31 years old, a police rookie.
More than a costume
His first day? It didn't start well. He got into his uniform, put on his badge, strapped on his revolver, and started walking to headquarters.
Then he realized: I'm lost. And what was he supposed to do? Go up in his uniform and ask a civilian for directions to the police station?
But he was a college professor with a Ph.D. from Berkeley. After some walking and hunting, he found the station.
Once there, it didn't take long for Doc's academic experiment to turn into something much like reality.
"Initially I thought of myself as a scientist who was just wearing this costume, this uniform. I'd had an aversion to guns. I was just there to observe," he says. "But then I had to do the things a policeman has to do. I had to back up my partner. I had to function as a police officer."
Until he became a cop, he'd never been touched by someone he didn't want touching him. He'd never been in a fight, never been jabbed in the back in a basketball game.
Now he was patrolling the area around the crime-ridden Blodgett Homes public housing project, which would be torn down and replaced 20 years later. The things he saw: A man who'd been killed in a dispute over a penny. A wife who slashed her husband's throat for eating more than his share of chicken wings.
Doc got inside a cop's skin. He saw the ugliness they see. The stress they face.
And he found a different side of himself, the first time he pointed a loaded gun at another human being. The professor looked inside himself and saw his dark side, his aggressive, reptilian brain. It was there, living within him, all this time. The realization was scary but exhilarating, wrapped up in power and authority: a cop on the street, making split-second decisions. It's like the streets of Dodge, and you're the Wild West sheriff.
'A real policeman'
Everyone agreed that there would be no publicity, but late in the summer the newspaper somehow heard about what he was doing. A Times-Union reporter followed him around one active night, breathlessly chronicling how the mild-mannered, mustachioed professor - "Charlie Chaplin," the paper called him - had grown into a gun-wielding cop willing to jump into a nasty crowd.
The story quoted him about what he'd learned about police work, once away from lecture halls and books.
"It's more like warfare than social work," he told the reporter. "How can you say that in a classroom without sounding like a Fascist pig?"
Sheriff Carson was quoted too: "As far as I'm concerned, he's a real policeman and a real man." If Doc was looking for work, the sheriff said, he'd hire him.
The Associated Press picked up the story, and soon Doc was all over the talk shows, the news magazines, National Enquirer, Regis Philbin. But things weren't all pretty once he got back to FSU. Some of the other criminology profs tried to block him from getting tenure; Kirkham figures they thought it would be "unseemly" for this cop to be a professor.
That fuss attracted Dan Rather and "60 Minutes" to Tallahassee, where Kirkham argued with the skeptical academics: Hey, this isn't medieval history.
He eventually got tenure, and in 1977 Ballantine published "Signal Zero," Kirkham's yarn of his summer in Jacksonville, complete with a cover blurb from Joseph Wambaugh.
Kirkham was a published author and a professor. But he wanted more. So for 18 years he patrolled part time for the Tallahassee Police Department, until he got past 50, until he almost got shot. Time to quit.
He taught at FSU until 1991, when he became a professor emeritus. He's made two dozen training videos on police work. He's been busy as a consultant, and as an expert witness in court, hundred of times. He's been on TV and in magazines many times over the years.
Monotony and stark terror
Doc is 67 now, and lives in Jupiter. This month he published a novel, with Leonard Territo, called "Ivory Tower Cop" (Carolina Academic Press).
It's a thriller about the hunt for a sicko rapist in Miami. The hero? A Berkeley-educated professor turned cop.
The author and his character both faced fear - intense fear - when they hit the street as cops. "Police work is hours of monotony," Kirkham says, "broken up by stark terror."
His old partner, the burly Kearney, understands why Doc was scared that long-ago summer.
"If you're not scared, you're stupid," he says. "And here he was, coming from a very controlled environment, with nothing to worry about other than maybe sticking his finger with a pencil."
Kearney laughs again.
"But hey, I'd probably be scared, too, if they put me in a classroom, teaching criminology to a bunch of police officers."







 Como professor de Criminologia, tive problemas durante algum tempo, devido ao fato de que, seguindo a maioria daqueles que escrevem livros sobre assuntos policiais, eu nunca havia sido policial. Contudo, alguns elementos da comunidade acadêmica norte-americana, tal como eu, agiram muitas vezes precipitadamente ao apontar erros da nossa polícia. Dos incidentes que lemos nos jornais, formamos imagens estereotipadas, como as do policial violento, racista, venal ou incorreto. O que não vemos são os milhares de dedicados agentes da polícia, homens e mulheres, lutando e resolvendo problemas difíceis para preservar nossa sociedade e tudo que nos é caro. Muitos dos meus alunos tinham sido policiais, e eles várias vezes opunham às minhas críticas o argumento de que uma pessoa só poderia compreender o que um agente da polícia tem de suportar quando se sentisse na pele de um policial. Por fim, me decidi a aceitar o desafio. Entraria para a polícia e, assim, iria testar a exatidão daquilo que vinha ensinando.
Como professor de Criminologia, tive problemas durante algum tempo, devido ao fato de que, seguindo a maioria daqueles que escrevem livros sobre assuntos policiais, eu nunca havia sido policial. Contudo, alguns elementos da comunidade acadêmica norte-americana, tal como eu, agiram muitas vezes precipitadamente ao apontar erros da nossa polícia. Dos incidentes que lemos nos jornais, formamos imagens estereotipadas, como as do policial violento, racista, venal ou incorreto. O que não vemos são os milhares de dedicados agentes da polícia, homens e mulheres, lutando e resolvendo problemas difíceis para preservar nossa sociedade e tudo que nos é caro. Muitos dos meus alunos tinham sido policiais, e eles várias vezes opunham às minhas críticas o argumento de que uma pessoa só poderia compreender o que um agente da polícia tem de suportar quando se sentisse na pele de um policial. Por fim, me decidi a aceitar o desafio. Entraria para a polícia e, assim, iria testar a exatidão daquilo que vinha ensinando. O maior obstáculo foram as 280 horas de treinamento estabelecidas por lei. Durante quatro meses (quatro horas por noite e cinco noites por semana), depois das tarefas de ensino teórico, eu aprendia como utilizar uma arma, como aproximar-me de um edifício na escuridão, como interrogar suspeitos, investigar acidentes de trânsito e recolher impressões digitais. Por vezes, à noite, quando regressava a casa depois de horas de treinamento de luta para defesa pessoal, com os músculos cansados, pensava que estava precisando era de um exame de sanidade mental por ter-me metido naquilo. Finalmente, veio a graduação e, com ela, o que viria a ser a mais compensadora experiência da minha vida. Patrulhando a rua Ao escrever este artigo, já completei mais de 100 rondas como agente iniciado, e tantas coisas aconteceram no espaço de seis meses que jamais voltarei a ser a mesma pessoa. Nunca mais esquecerei também o primeiro dia em que montei guarda defronte à porta da Delegacia de Jacksonville. Sentia-me, ao mesmo tempo, estúpido e orgulhoso no meu novo uniforme azul e com a cartucheira de couro.
O maior obstáculo foram as 280 horas de treinamento estabelecidas por lei. Durante quatro meses (quatro horas por noite e cinco noites por semana), depois das tarefas de ensino teórico, eu aprendia como utilizar uma arma, como aproximar-me de um edifício na escuridão, como interrogar suspeitos, investigar acidentes de trânsito e recolher impressões digitais. Por vezes, à noite, quando regressava a casa depois de horas de treinamento de luta para defesa pessoal, com os músculos cansados, pensava que estava precisando era de um exame de sanidade mental por ter-me metido naquilo. Finalmente, veio a graduação e, com ela, o que viria a ser a mais compensadora experiência da minha vida. Patrulhando a rua Ao escrever este artigo, já completei mais de 100 rondas como agente iniciado, e tantas coisas aconteceram no espaço de seis meses que jamais voltarei a ser a mesma pessoa. Nunca mais esquecerei também o primeiro dia em que montei guarda defronte à porta da Delegacia de Jacksonville. Sentia-me, ao mesmo tempo, estúpido e orgulhoso no meu novo uniforme azul e com a cartucheira de couro. Como professor, sempre procurava transmitir aos meus alunos a idéia de que era errado exagerar o exercício da autoridade, tomar decisões por outras pessoas ou nos basearmos em ordens e mandatos para executar qualquer tarefa. Como agente de polícia, porém, fui muitas vezes forçado a fazer exatamente isso. Encontrei indivíduos que confundiam gentileza com fraqueza – o que se tornava um convite à violência. Também encontrei homens, mulheres e crianças que, com medo ou em situações de desespero, procuravam auxílio e conselhos no homem uniformizado. Cheguei à conclusão de que existe um abismo entre a forma como eu, sentado calmamente no meu gabinete com ar condicionado, conversava com o ladrão ou assaltante à mão armada, e a maneira pela qual os patrulheiros lidam com esses homens – quando eles se mostram violentos, histéricos ou desesperados.
Como professor, sempre procurava transmitir aos meus alunos a idéia de que era errado exagerar o exercício da autoridade, tomar decisões por outras pessoas ou nos basearmos em ordens e mandatos para executar qualquer tarefa. Como agente de polícia, porém, fui muitas vezes forçado a fazer exatamente isso. Encontrei indivíduos que confundiam gentileza com fraqueza – o que se tornava um convite à violência. Também encontrei homens, mulheres e crianças que, com medo ou em situações de desespero, procuravam auxílio e conselhos no homem uniformizado. Cheguei à conclusão de que existe um abismo entre a forma como eu, sentado calmamente no meu gabinete com ar condicionado, conversava com o ladrão ou assaltante à mão armada, e a maneira pela qual os patrulheiros lidam com esses homens – quando eles se mostram violentos, histéricos ou desesperados.