COMENTÁRIO DO BENGOCHEA - ESTA MATÉRIA NÃO LEVOU EM CONTA QUE A POLÍCIA ESTÁ ENVOLVIDA NUMA GUERRA
URBANA NUM CENÁRIO EM QUE O CRIME ESTÁ INFILTRADO NAS COMUNIDADES E VEM
SENDO FAVORECIDO PELA PERMISSIVIDADE DAS LEIS, LENIÊNCIA DA JUSTIÇA,
CAOS NA EXECUÇÃO PENAL E OMISSÃO NOS PODERES CONSTITUÍDOS. Nesta guerra,
bandidos são mortos e policiais tentam sobreviver aos ataques e
atentados a mando e promovidas por facções e quadrilhas organizadas que
dominam presídios e se abastecem com drogas e arsenal de guerra trazidas
pelas fronteiras despoliciadas.
Monitor da Violência
Cresce número de pessoas mortas pela polícia no Brasil; assassinatos de policiais caem
País teve 5.012 mortes cometidas por policiais na ativa em 2017, um aumento de 19% em relação a 2016. Já o número de policiais mortos caiu: foram 385 assassinados no ano passado. Falta de padronização e transparência dificulta consolidação dos dados.
Por Clara Velasco, Gabriela Caesar e Thiago Reis, G1
10/05/2018 05h15
O Brasil teve no ano passado 5.012 pessoas mortas por policiais – 790 a mais que em 2016. No mesmo período, 385 policiais foram assassinados – número menor que o do ano anterior. É o que mostra um levantamento feito pelo G1 com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal.

O número de vítimas em confronto com a polícia cresceu 19% em um ano. Já o de policiais mortos caiu 15% – foram 453 oficiais assassinados em 2016.
O dado, inédito, compreende todos os casos de “confrontos com civis ou lesões não naturais com intencionalidade” envolvendo policiais na ativa (em serviço e fora de serviço).
O levantamento faz parte do Monitor da Violência, uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
O levantamento revela que:
O Brasil teve 5.012 pessoas mortas por policiais no ano passado – um aumento de 19% em relação ao ano anterior, quando foram registradas 4.222 vítimas;
A taxa de mortes pela polícia a cada 100 mil habitantes subiu e está em 2,4;
O Amapá é o estado com a maior taxa de mortes por policiais: 8,3 a cada 100 mil;
O país teve 385 policiais assassinados em 2017 (menos que em 2016, quando 453 oficiais foram mortos);
O Rio de Janeiro é o estado com o maior número absoluto de mortos por policiais (1.127) e de policiais mortos (119);
São Paulo é o estado com a maior proporção de mortes por policiais sobre o total de crimes violentos: 19,5% .
Para Bruno Paes Manso, do NEV-USP, em vez de trabalharem para reduzir as taxas de homicídios, as polícias de alguns estados brasileiros têm sido responsáveis pelo agravamento do quadro de violência ao registrar uma quantidade crescente de mortes durante o patrulhamento. “Nos últimos anos, o problema piorou principalmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil, onde estão oito das dez polícias mais letais do país.”
Segundo Samira Bueno e Renato Sérgio de Lima, diretores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de mortos em decorrência de intervenções policiais mostra que o Brasil está flertando com a barbárie. "Geralmente justificadas como sinônimo da eficiência policial, que chega mais rápido ao local da ocorrência, ou como resposta ao aumento da criminalidade, o fato é que o aumento demonstra o completo descontrole do Estado brasileiro."
"Mais preocupante ainda é verificar que quase três centenas de policiais foram mortos fora do serviço, em situações que desconhecemos por completo", afirmam.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/J/0/Xtjua3TUy6UkWyiaJRZg/arte-estatica-letalidade-policial.jpg)
Pessoas mortas por policiais no país (Foto: Betta Jaworski/G1)
Vítimas da polícia: revolta e dor
O Amapá é, mais uma vez, o estado com
a maior taxa de mortos pela polícia do país: 8,3 a cada 100 mil habitantes – bem acima da média nacional (2,4). Foram 66 pessoas mortas pela polícia em 2017.
Em janeiro do ano passado, Brendo Pinheiro foi morto por um policial em Macapá. Segundo a PM, ele atirou antes. A irmã diz que ele foi executado pelos policiais e que não foi ouvida pelas autoridades. "Eu abri a veneziana do lado, quando vi eles colocarem a arma na mão do meu irmão e atirarem na parede. Depois, forjaram o tiroteio", conta.
Para o secretário da Segurança do Amapá, Carlos Souza, o alto índice de mortes por intervenção policial no estado é reflexo de um escalonamento do crime. “A taxa aumentou. É um número preocupante. Mas hoje tenho certeza que esses homens estão indo para a rua para proteger as pessoas e têm a sua vida ameaçada. Considero que houve um aumento do enfrentamento da criminalidade.”
Comandante-geral da PM em 2015 e 2016, ele diz que a missão da corporação “é sempre preservar a vida, nunca tirá-la". "Nós somos signatários do método de preservação da vida, do coronel Giraldi, onde temos uma doutrina específica de quando usar a arma de fogo. Desde a formação de soldado todos passam por isso. Intensificar treinamento é sempre muito importante.“
Segundo Souza, para interromper esse ciclo de violência é preciso prevenção. “O policiamento de proximidade é fundamental. E a repressão precisa ser extremamente qualificada, com o fortalecimento de todas as agências de inteligência", diz.
No estado de São Paulo, foram registradas 940 pessoas mortas por policiais. O estado fica apenas atrás do Rio de Janeiro no número absoluto de mortes. E aparece na primeira posição se for considerada a proporção de mortes cometidas por policiais sobre todos os crimes violentos: 19,5%. Isso significa que um em cada cinco assassinatos cometidos no estado tem um policial como autor.

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/H/A/TS1IZKQs6jyHTmiFAnPw/montagem-mecanico.jpg)
Em imagem de câmera, o mecânico Eduardo dos Santos é levado por um policial após sofrer agressões em sua oficina, em Itapevi (SP). Ele morreu três horas e meia depois (Foto: Glauco Araújo/G1)
O mecânico Eduardo Alves dos Santos, de 49 anos,
faz parte das estatísticas. O crime aconteceu em 16 de janeiro, em Itapevi, na Grande São Paulo, quando a mulher dele, Fernanda Camargo, acionou a Polícia Militar para ajudá-la a tirar seus pertences de casa.
Ela conta ao G1 que chamou a polícia por temer que o marido ficasse irritado com sua saída de casa. Santos morreu cerca de três horas e meia depois de ser agredido pelo policial militar Adriano Soares de Araújo. “Eu não chamei a polícia para matá-lo. Eu chamei a polícia para me ajudar”, diz.
“A morte do meu marido não foi porque meu marido tropeçou e bateu a cabeça. A morte do meu marido não foi porque levou um tiro de um bandido. Não. Meu marido foi espancado por um policial dentro da minha casa”, diz Fernanda Camargo, viúva de Eduardo dos Santos.
A Secretaria da Segurança de São Paulo diz que desenvolve ações para redução da letalidade policial. "Uma delas foi a implantação da resolução SSP 40/15, que visa garantir maior eficácia nas investigações de mortes, com o comparecimento das Corregedorias e dos comandantes da região, além de equipe específica do IML e do IC. Os casos só são arquivados após minuciosa investigação pelas polícias a pedido do Ministério Público e ratificação do Judiciário."
"Toda a ocorrência é acompanhada, monitorada e analisada para constatar se a ação policial foi realmente legítima. Em 2017, o índice de suspeitos que morreram após entrarem em confronto com a polícia foi de 18%. Também no ano passado foram presos em flagrante 152.448 pessoas contra 687 que morreram ao confrontar a polícia durante o serviço. Assim, o total de mortos sobre o universo de pessoas presas representa 0,45%", diz a pasta.
Sobre a morte do mecânico, a secretaria diz que o PM foi indiciado e está afastado do serviço operacional. "O Inquérito Policial Militar (IPM) também foi concluído e encaminhado à Justiça Militar. O processo está em instrução na 4ª auditória, avocado pela Corregedoria e o resultado foi lesão qualificada com resultado morte."
No Rio de Janeiro, que lidera as estatísticas em números absolutos (1.127) e tem a segunda maior taxa do país (6,7 mortes a cada 100 mil habitantes), o caso de Maria Eduarda Ferreira, de 13 anos, não é esquecido. A garota foi atingida por um tiro no pátio da escola em Acari, na Zona Norte do Rio, durante uma aula de educação física.

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/K/F/aPRaGYTiCvFmlUyEhObA/maria-eduarda.jpg)
Maria Eduarda foi morta no pátio da escola em que estudava, no Rio. O responsável pelo tiro foi o cabo Fábio de Barros dias (Foto: Reprodução/TV Globo)
O responsável pelo tiro foi um cabo da PM. A Divisão de Homicídios do Rio concluiu que
o policial assumiu o risco de matar ao fazer disparos na direção da escola, de onde dois criminosos também atiravam.
“Uma revolta, né, por ela ser morta dentro da escola, de uma forma brutal. (...) Quando eu lembro dela, é isso, é que eu nunca mais eu vou tê-la. Nem eu, nem minhas irmãs, nem minha mãe, nem o pai”, diz Uidson Ferreira, irmão de Maria Eduarda.
A Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro diz que tem diretrizes para as polícias Civil e Militar, referentes aos protocolos operacionais para áreas sensíveis, "localidades onde é elevado o risco de confronto armado com infratores da lei em decorrência de operações policiais com o objetivo de preservar a vida dos moradores e dos agentes da lei".
"Por meio do Exército Brasileiro, o Gabinete de Intervenção Federal disponibilizou as estruturas do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro para treinamentos periódicos dos policiais militares – que ocorrem também na sede do Comando de Operações Especiais", afirma a secretaria.

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/O/1/QOsXePSgK5mFBmBc7bDg/arte-estatica-policiais.jpg)
Policiais mortos no país (Foto: Betta Jaworski/G1)
Policiais mortos: luto
O Rio é também o estado com mais policiais mortos. Em 2017, foram 119. É o caso do 2º sargento Renato Cardoso, morto
durante uma tentativa de assalto na Zona Norte da capital fluminense. Amanda Soares Santana, a viúva do PM, conta que o crime aconteceu quando Cardoso estava a caminho do trabalho.
“Ele parou no sinal. Houve um assalto no carro ao lado, e os marginais, depois de assaltar esse carro, foram em direção a ele. Alvejaram ele com 10 disparos. Ele morreu ali no local”, diz Amanda Santana, viúva do 2º Sargento Renato Cardoso.
Para ela, os assaltantes perceberam que Cardoso era policial. As investigações, no entanto, ainda estão em andamento.

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/q/c/QXZueBQAWBikArKJWtug/morto-maracana1.jpg)
O 2º Sargento Renato Cardoso morreu a caminho do trabalho, durante uma tentativa de assalto no Rio (Foto: Bruno Albernaz / G1)
O secretário da Segurança do Rio de Janeiro, Richard Nunes, determinou rigor na apuração das mortes dos policiais, cuja investigação está a cargo da Divisão de Homicídios, informa a pasta. "A secretaria realiza junto ao Gabinete de Intervenção Federal estudos para a proposta de mudanças na legislação com o objetivo de coibir a violência contra policiais."
São Paulo também fica em segundo lugar no número absoluto de policiais mortos. Foram 60, quase a metade do total de mortos no Rio. Diferentemente do caso registrado na capital fluminense, a morte do cabo Jair de Lima Rodrigues em São Paulo aconteceu durante seu trabalho. Sua viúva, Susana Rodrigues, conta que ele foi baleado durante uma ocorrência.
A morte, que aconteceu no dia 5 de abril de 2017, já completou mais de um ano, mas a dor e o luto permanecem.
“Até hoje ainda choro. Evito chorar na frente do meu filho porque ele não gosta. Mas ainda choro muito. A falta dele… Ele era bem presente. Era bem família”, diz Suzana Rodrigues, viúva do cabo Jair Rodrigues.
A SSP diz que a morte do policial militar é investigada por meio de inquérito policial, em andamento pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/u/x/Pxg5qoQA2lDsYq4bArfQ/foto-casamento-img-6174.jpg)
Foto mostra casamento de Suzana e Jair; cabo foi morto a tiros durante o trabalho (Foto: Glauco Araújo/G1)
Falta de padronização e transparência
O levantamento feito pelo G1 durou mais de um mês e meio. Os dados foram solicitados via Lei de Acesso à Informação (sob a mesma metodologia utilizada nos anuários do Fórum Brasileiro de Segurança Pública) e também foram pedidos às assessorias de imprensa das secretarias da Segurança. O resultado: informações desencontradas e incongruentes.
Em Alagoas, por exemplo, o comando da PM enviou por meio da Lei de Acesso a seguinte resposta à pergunta sobre o número de pessoas mortas pela PM em serviço: “Nada registrado”. Já a assessoria da secretaria informou o dado: 117 vítimas.
A situação não foi muito diferente no Rio de Janeiro. A assessoria de imprensa da Polícia Militar afirmou que houve 80 mortes de policiais militares na ativa fora de serviço em 2017. Já o dado enviado pela Lei de Acesso à Informação, em resposta ao 2º recurso formulado pelo G1, foi outro: 92 mortes. O Instituto de Segurança Pública (ISP) e a PM informam que usam metodologias diferentes para chegar aos números.
No Espírito Santo, ocorreu o contrário: a assessoria passou que eram 13 as vítimas mortas por policiais. O dado via Lei de Acesso, no entanto, se revelou bem maior: 39. A explicação dada, depois, pela secretaria foi que o primeiro dado não comportava os oficiais de folga.
Em Roraima, a informação passada pela assessoria era a de que nenhum policial militar fora de serviço havia morrido. Mas, via LAI, o dado também foi outro: um PM morto em 2017. Houve algo parecido no Amapá. O dado passado de 56 pessoas mortas pela polícia contrastou com o enviado pela Lei de Acesso dias depois: 66.
No Rio Grande do Norte, a resposta dada pela LAI também foi diferente da enviada pela assessoria em relação aos policiais mortos: 18 e 12, respectivamente. O primeiro número, no entanto, incluía PMs aposentados (esclarecimento que só foi feito após questionamento do G1).
Em alguns casos, o mesmo pedido, feito da mesma forma, foi respondido, sem explicação, de forma diferente. Foi o que aconteceu na Bahia. O G1 pediu os dados seguindo o padrão metodológico utilizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que, por sua vez, fez a mesma solicitação para a publicação do anuário no fim do ano. O G1 recebeu um número, e o Fórum, outro.
O mesmo aconteceu em Pernambuco. Após ser questionada sobre as diferenças nos dados recebidos pelo G1, a assessoria de imprensa corrigiu as informações para os mesmos números recebidos pelo Fórum, bem mais altos.
O G1 teve de sanar todas essas disparidades para chegar aos dados finais e dar uma confiabilidade maior à estatística.
Em alguns estados, porém, não foi possível comparar os dados porque o pedido da Lei de Acesso à Informação não foi nem sequer respondido. É o caso de Rondônia, onde o requerimento continua em tramitação, sem previsão de resposta. O pedido, no entanto, foi protocolado em 26 de março.
Já o Tocantins, por exemplo, não mandou os números da Polícia Civil mesmo após o prazo ter expirado. Cobrada, a Controladoria Geral do Estado enviou uma nota: “Informamos que, devido à cassação do governador Marcelo Miranda, à posse do governo interino e a várias alterações dos responsáveis pelos setores dos órgãos, o atendimento da solicitação não foi possível ser realizado”.
Em outros dois estados, parte dos dados não foi enviada nem pela assessoria nem pela LAI. Isso significa que o número de vítimas pode ter sido ainda maior.
O que eles dizem:
Mato Grosso do Sul: não enviou os dados de pessoas mortas por policiais civis. O G1 entrou com recurso em 1ª instância via Lei de Acesso para conseguir as informações, mas recebeu a recomendação da própria Ouvidoria de entrar com um segundo recurso, já que os dados não foram disponibilizados
Pernambuco: não informou o número de pessoas mortas por policiais de folga. Os dados constam como “não disponíveis”
Participaram desta etapa do projeto:
Coordenação: Athos Sampaio e Thiago Reis
Dados e edição: Clara Velasco, Gabriela Caesar e Thiago Reis
Produção: Vitor Santana (G1 GO), Affonso Andrade e Henrique Coelho (G1 Rio) e Glauco Araújo (G1 SP)
Roteiro (vídeos): Beatriz Souza, Clara Velasco, Gabriela Caesar, Mariana Mendicelli e Thiago Reis
Edição (vídeos): Sérgio Fernandes
Edição (infografia): Rodrigo Cunha
Design: Alexandre Mauro, Roberta Jaworski e Igor Estrella
Desenvolvimento: Antonio Lima


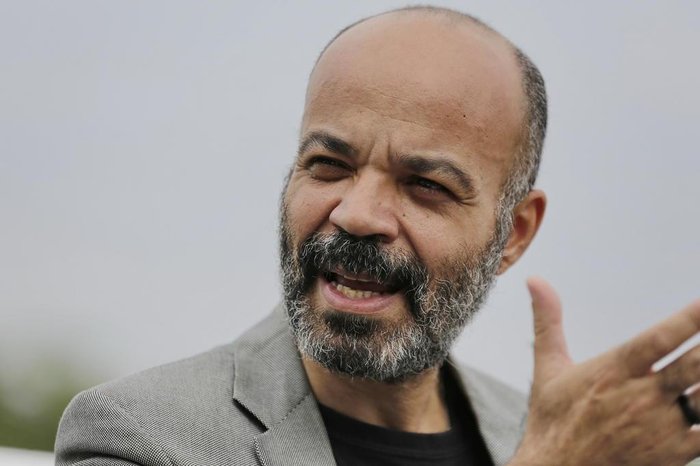 Ibis Pereira tem 33 anos de Polícia militarAnderson Fetter / Agencia RBS
Ibis Pereira tem 33 anos de Polícia militarAnderson Fetter / Agencia RBS Coronel deu entrevista com Constituição em mãosAnderson Fetter / Agencia RBS
Coronel deu entrevista com Constituição em mãosAnderson Fetter / Agencia RBS/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/b/H/I6je93RJC7bA8ijpDnAQ/ilustra-4.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/t/w/4tkjNBTLqSDXNVkV4RAA/ilustra-2.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/X/q/PRsTGERVulCvbkvnaXow/ilustra-1.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/F/A/UG5HgvSOaMIdMkEmT4ag/ilustra-3.jpg)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/J/0/Xtjua3TUy6UkWyiaJRZg/arte-estatica-letalidade-policial.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/H/A/TS1IZKQs6jyHTmiFAnPw/montagem-mecanico.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/K/F/aPRaGYTiCvFmlUyEhObA/maria-eduarda.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/O/1/QOsXePSgK5mFBmBc7bDg/arte-estatica-policiais.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2017/q/c/QXZueBQAWBikArKJWtug/morto-maracana1.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2018/u/x/Pxg5qoQA2lDsYq4bArfQ/foto-casamento-img-6174.jpg)




